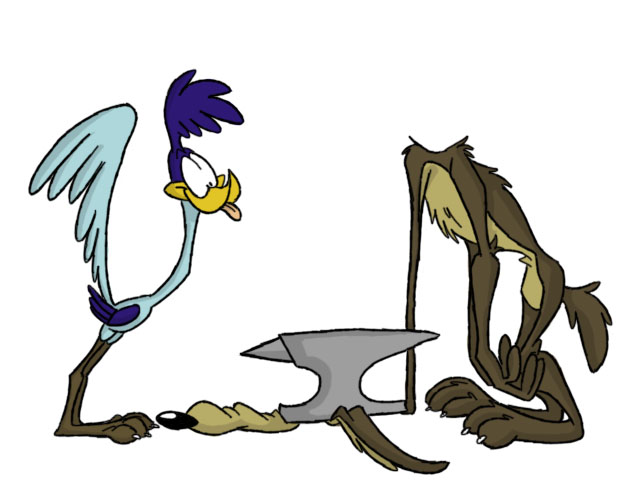“Mas gente rica e coach (e publicitário) só presta pra test-drive de guilhotina, então vamos falar de Deleuze, Guattari e Rolnik.”
Sim, você não errado.
Não, essa frase não é minha.
Poderia integrar alguma frase engraçadinha (sqn) de um show de stand up comedy ruim, mas a sentença estava registrada em um projeto de pesquisa que, enquanto lida, foi recebida por uma generosa gargalhada partilhada por quase todos os presentes naquela reunião de grupo.
Quase todos porque em mim o efeito imediato foi o oposto.
Eu que até àquela altura do mestrado já tinha encarado o falecimento da minha mãe e mais de 1 ano de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, agora precisava encarar uma ordem de morte fantasiada de assédio fantasiada de piadinha prá deixar a redação de um documento acadêmico menos careta.
Tudo o que se passou nos 9 meses restantes meio que foi minando a minha expectativa boba de aprender em conjunto, colaborar e receber colaboração genuína e, finalmente, continuar no plano de seguir uma carreira na pesquisa.
De todas as memórias daquele período da pós-graduação esta talvez tenha sido a que eu mais comentei com amigos ou outras pessoas do círculo de trabalho e estudo. Falei tanto que aquilo calcificou a ponto de não doer mais.
Este ano completo 14 anos de formado em Publicidade com + 2 ou 3 anos de experiência na área sem nem mesmo ter alcançado o diploma. Foi com essa grana que vivi com dignidade e “paguei minha vida” por um bom tempo.
Nunca romantizei a profissão. Inclusive, encarei de muito perto vários pontos baixíssimos que só quem é da área vai decifrar e entender de imediato. Aprendi a dar ainda mais valor depois que me tornei professor de disciplina em curso de Publicidade. Aprendi a me orgulhar pela trajetória e morro de orgulho de vários colegas que já brilhavam desde a faculdade. Alguns grandes amigos.
Contrariando um protocolo, eu não emendei o mestrado com o doutorado. Em parte, porque precisei agarrar pelo chifre uma oportunidade de lidar com o ensino superior, uma experiência até aquele momento inédita pra mim. Em outra parte, a vida nunca obedece àquilo que a gente escreve no nosso planner. E, por último, eu não sei se estava disposto a cavucar uma ferida.
Entenda. Não tem a ver com uma frase ou o preconceito que alguém tem com alguma profissão. Eu também tenho os meus (ainda que nem sempre alardeie). Tinha a ver com uma lição preciosa de nossa musa Inês Brasil: TENK SEGURAR A MARIMBA

E a dica vale pra muitos outros contextos. A gente tem que se respeitar a ponto de aguentar, peitar se preciso, não ousar abrir mão se é uma coisa que a gente acredita. Acho que naquele momento eu não era esse Thiago todo que levantaria, bateria 3 palmas abertas e responderia metralhando palavras (que certamente viriam destemperadas).
Eu finalmente comecei o doutorado e segurar a marimba tem significado um monte de coisa. Parte dessas escolhas tem a ver com começar de novo e de um quase zero, um terreno que eu conheço pouquíssimo. Novos ares, novos contexto, outras regras, outros códigos.
Até aqui estou segurando a minha marimba e ninguém desejou a minha morte, pelo menos.